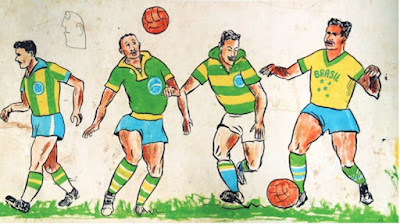UM ROTEIRO SOBRE A CRIAÇÃO
DA CAMISETA DA SELEÇÃO, SEU
SEQUESTRO PELO GOLPISMO E O
DESTINO DE UM BRASIL FRATURADO
p o r A N D R É C O S T A N T I N *
Este é o roteiro de um filme
inacabado sobre um ícone do
Brasil. O enredo é um crime
político: o sequestro da cami-
sa da Seleção brasileira de fu-
tebol. A mística camisa ama-
rela vaga pelo seu inferno
simbólico, nesta quadra his-
tórica em que o País, saído de uma trau-
mática eleição para presidente, ensaia seu
retorno à luz. Nação e símbolo desencan-
taram-se, o corpo procura sua alma.
Nestes dias alucinantes, o drama desta
história toca o ápice, em busca de desen-
lace. O Brasil entra em campo na Copa do
Mundo do Catar, renovando a gasta espe-
rança do hexa. Nas ruas, a camisa do Bra-
sil derrama seu amarelo-ouro
nas multidões que acampam
às portas de quartéis, do Sul
ao Norte, e pedem “interven-
ção” militar. Traços de ficção
atravessam a realidade.
Cena/Sequência 1 (Cami-
sa em Transe): Dia de Finados,
novembro de 2022. Parentes visi-
tam seus mortos em uma cidade indus-
trial do Sul do Brasil. Depois saem às
ruas, de amarelo, em grupos. Passaram-
-se três dias da eleição presidencial. Os
jornais ainda noticiam a vitória de Lu-
la. Estou diante da ilha de edição de um
filme, mas não há concentração possível
com a estranha vibração que vem da rua.
Vou para casa. Tro-
co o carro pela moto.
Dirijo-me ao encontro
da multidão, até onde é
possível. Depois, sigo a
pé. Penetro a agitação
verde-amarela, de ca-
pacete, gravo com um
Iphone. “Deus, pátria,
família”, o lema estam-
pa as camisas amarelas,
em múltiplas variações,
entre os fanáticos abduzidos
pelos smartphones. Em planos-
-sequência, filmo famílias intei-
ras, de avós a bebês, que se movem ao
centro do teatro: o portão de um grupa-
mento do Exército. Na maioria, brancos
como eu. Parecem saídos da missa das
10 da Igreja dos Capuchinhos, nas cer-
canias do quartel. Uma carreata ruido-
sa tangencia a manifestação.
Entro pelo núcleo central, onde a massa
se adensa e se move por inércia, bloquean-
do a avenida. Animadores discursam no
alto de um caminhão de som. Toca o Hi-
no Nacional. Depois todos cantam o Hi-
no da República Rio-Grandense: Sirvam
nossas façanhas de modelo a toda a Terra...
Vendedores de camisas da Seleção,
dispostas em araras, faturam sem pa-
rar. Todos querem a de Neymar Jr. Só
ha do Neymar – o camisa 10 bolsona-
rista. Um rapaz assa churrasco de cos-
tela gorda na caçamba de uma picape. O
orador, outro camisa 10, pede que todos
se ajoelhem no asfalto, para juntos reza-
rem um Pai-Nosso. Pela pátria.
Corte/Camisas e bandeiras em profu-
são: ignoram, estas milhares de almas,
amalgamadas nas redes sociais, a gênese
da camisa que hoje veste seus devaneios
em praça pública. Concebida nas lonjuras
do extremo Sul do Brasil, a camisa da Se-
leção é a criação de um brasileiro da fron-
teira, ferrenho amante e defensor da de-
mocracia e das autênticas liberdades: o es-
critor Aldyr Garcia Schlee, com quem via-
jamos em busca de uma biografia da ca-
misa brasileira, para contar esta história.
Este senhor do Pampa, forma-
do na linha tênue entre Brasil
e Uruguai, inventou a camisa
da Seleção brasileira de futebol
no ano de 1953. Aos 17 anos, fez
surgir em papel e guache a ca-
misa-síntese do Brasil, para dar luz e no-
vo espírito nacional ao opaco uniforme
dos jogadores brasileiros nos estádios do
mundo. Schlee criou um símbolo tão bri-
lhante e vitorioso que se tornou a repre-
sentação oficial de todos os esportes na-
cionais. Mais: virou ícone da brasilida-
e, do jogo bonito, uma ideia de Brasil. A
camisa do rei Pelé e outros seres mági-
cos, mais vista, mais sonhada e mais re-
conhecida aqui e no mundo do que a pró-
pria bandeira nacional.
Marca identitária de um país do futu-
ro, feita manto e escudo de heróis míti-
cos, a camisa dita “Canarinho” teria de
cumprir, por força do destino, a sua jor-
nada dantesca, entre o Céu e o Inferno.
Para além dos estádios e das transmis-
sões de tevê, também revestiu os fantas-
mas de um velho Brasil: o reacionarismo
atávico, o autoritarismo.
Na companhia não do poeta Virgílio
– como no périplo de A Divina Comédia,
de Dante Alighieri –, mas de um sombrio
Messias emanado da nossa pior tradição
política, a camisa desceu aos círculos do
Inferno e vestiu na última década legiões
de brasileiros aprisionados ao Brasil ar-
caico, violento e ressentido.
Hoje, nas ruas e nos corações da nação,
entre os que se agitam na histeria golpis-
ta e os que silenciam no exílio simbólico
da cor amarela, a camisa do Brasil vive
seu maior transe. Podemos ouvir a voz do
narrador global, onipresente: “A pergunta
de milhões, haverá redenção da camisa?”
Cena/Sequência 2 (A Camisa Seques-
trada): O carro cruza a fronteira e mer-
gulha no Uruguai. Schlee, o pai da cami-
sa da Seleção, está com 83 anos. Tem os
olhos fixos na paisagem que escolheu co-
mo sua, brasileiro ao Sul do próprio País,
no território imaginário que viveu, rein-
ventou e escreveu, transbordando limi-
tes de terras reais e abstratas: o Pampa.
Nosso destino é Montevidéu, onde Bra-
sil e Uruguai entrarão em campo pelas eli-
minatórias da Copa da Rússia. Estamos
em março de 2017, átrio do inferno bolso-
narista, em cujo portal imaginário o con-
de Temer recita Dante: “Deixai cada es-
perança, vós que entrais”. Embora o hori-
zonte anunciasse as cinzas amazônicas e
as nuvens da nossa necrofilia política, ía-
mos em busca de um sentido original, de
uma possível redenção da camisa brasilei-
ra. Schlee sabe, sem o dizer: é a sua últi-
ma travessia Uruguai adentro, o reencon-
tro com a sua maior criação, quase renega-
da, ao fim da vida. De ícone de uma dese-
jada nação da alegria e da ginga, a camisa
da Seleção retrocedeu à condição da nos-
sa decantada vira-latice. Foi colada à cor-
rupção da cartolagem, ao futebol mone-
tário, até chegar ao sinistro 7 a 1. E, desde
então, viajou por inenarráveis subterrâ-
neos. O novo sentido da camisa foi anun-
ciado na onda dos protestos de 2013. Mul-
tidões gritavam que o gigante acordava.
Aos poucos, a cor amarela associava-se ao
patriotismo, na vazão do expurgo coleti-
vo, sem direção – e outros ismos: naciona-
lismo, militarismo, lavajatismo, golpismo,
até o abismo bolsonarista.
Schlee mira o deserto do Pampa, fala
de seu desencanto amarelo. “O que me
deixa profundamente triste, que me faz
ficar de mal com a minha criação, é o fa-
to de a camisa ter se tornado um símbo-
lo popular do golpe que tirou uma presi-
denta do País democraticamente eleita.
O uso político da camisa da Seleção é al-
go que precisa ser revisto.”
DE ÍCONE DE UMA
DESEJADA NAÇÃO
DA ALEGRIA E DA
GINGA, A CAMISA
DA SELEÇÃO
RETROCEDEU À
CONDIÇÃO DA
NOSSA DECANTADA
VIRA�LATICE
Cena/Sequência 3 (A Camisa de San-
gue): Ainda nos ares de 2013, um oculto
sentimento ou ser, inominado, fermen-
tava nos intestinos da nação. Era até en-
tão um ser opaco, cronicamente inviável.
Movia-se há 30 anos pelos submundos do
Exército e da política. O Messias envia-
do, com a arma e a Bíblia nas mãos, so-
bre quem recaiu tamanha energia acu-
mulada, ganhou um nome. Um certo Jair
– com o erre de pronúncia caipira, masti-
gado pela ancestralidade italiana do in-
terior paulista. Jair Messias Bolsonaro.
Em um toque de tragédia grega,
de repente, às vésperas da elei-
ção de 2018, uma faca atraves-
sa a camisa amarela do Messias,
carregado por mitômanos em
Juiz de Fora – roteiro de um
filme B, sangue e ketchup a vazar da te-
la. Fez-se o mito no quintal do mundo.
O poder refestelou-se na camisa da Se-
leção. A camisa amarela nele encarna o
modelo de um fascismo à brasileira, ana-
crônico, messiânico, histérico e melan-
cólico a um só tempo. De amarelo agita-
vam-se os manifestantes que, ao míni-
mo sinal do Messias às portas do palá-
cio, saíam às ruas para exigir a interven-
ção militar, o fechamento do Congresso
e do Supremo – o cabo e o soldado no ji-
pe, generais de óculos escuros a sobrevo-
ar a Praça dos Poderes.
Recaída, a camisa da Seleção de certo
modo regurgita o passado. No tricampeo-
nato da Copa do México, em 1970, ela ser-
viu ao clichê da pátria de chuteiras, in-
flada pela ditadura iniciada em 1964.
Rivellino, Gérson, Tostão, Jairzinho e
Pelé embalavam o “esquadrão de ou-
ro” do Prá Frente Brasil, canção-tema
da propaganda ufanista daqueles anos.
Passados quase 50 anos, tendo o País
atravessado a ponte da ditadura, a ca-
misa amarela volta ao olho do furacão,
transformada em farda civil, quase mili-
tar. Talvez a camiseta Canarinho tenha,
enfim, ajustado o figurino ao corpo e à al-
ma que realmente somos: um Brasil du-
ro, perna-de-pau, movido por esse ódio
cíclico que nutrimos por nós mesmos.
Não mais aquela fantasia que imaginá-
vamos e desejávamos ser, a caminho do
futuro, longe, mas promissor.
Cena 4/Corte (O Carro de Som):
8 de novembro de 2022, pas-
saram-se nove dias da eleição
de Lula. O técnico Tite anun-
cia os convocados da Seleção.
Um carro de som circula lá
fora, com um mantra de mil decibéis:
“Patriotas, a nossa pátria sofreu um du-
ro golpe contra a democracia. A eleição foi
fraudada. Não respeitaram a vontade do
povo. Por isso convidamos todos vocês a
se juntarem a nós e ir até os portões dos
quartéis. Pela nossa pátria, pelas nossas
famílias, pelos nossos filho e netos”.
Cena/Sequência 5 (Ao Sul da Camisa):
Retornamos à estrada. O pertencimento
da camisa é uma viagem alucinante, com
destino incerto. O Pampa aprofunda-se
até Jaguarão, 152 quilômetros ao sul de
Pelotas. A cidade ainda é quase toda um
sítio histórico, com fachadas portuguesas.
A camisa brasileira não deixa de ser
uma refração dessa faixa de fronteira,
que divide, mas também revela o que es-
tá à nossa frente. É onde Schlee nasceu e
viveu até a adolescência, o território real
e imaginário de sua vida e obra literária,
em dezenas de contos, novelas e roman-
ces – vários traduzidos e adaptados, en-
tre eles os contos de O Dia em Que o Pa-
pa Foi a Melo (1991/Uruguai; 1999/Bra-
sil), que virou o filme O Banheiro do Pa-
pa, de César Charlone, em 2007.
Aos 7 anos, Schlee era iniciado no fute-
bol pelo tio Oscar Garcia, goleiro de fama
em Jaguarão. Nos vestiários de tábuas,
fedendo a urina, o menino ficava quieto
nos cantos, diminuído, vendo aqueles ho-
mens de falas portuguesas e castelhanas,
nus, dizendo palavrões. Pegou paixão pe-
la “Celeste” uruguaia. Inspirado na crô-
nica esportiva das revistas El Grafico e
Mundo Deportivo, de Montevidéu, pas-
sou a reproduzir os gols que ouvia em de-
senhos e esquemas gráficos. Surgia o cro-
nista e o artista.
Paramos às margens do Jaguarão pa-
ra gravar. Ao fundo está a ponte em arcos,
fortificada, que liga o Brasil ao Uruguai.
Voltamos à lembrança da Copa do Mundo
de 1950. O Brasil foi abatido pelo Uruguai
no Maracanã, no episódio que entrou pa-
ra a história como Maracanazzo – e para
a crônica sociológica do “complexo de vi-
ra-latas”, de Nelson Rodrigues.
No dia daquela final, Schlee tinha cru-
zado a ponte. Estava no cinema, do lado
uruguaio, quando o filme foi interrom-
pido. Acenderam-se as luzes e o locutor
anunciou que o Uruguai se sagrava cam-
peão do mundo no Brasil. Delírio geral.
“Eu chorava copiosamente, mas não sa-
bia se era de tristeza ou de alegria.”
Até o trauma do Maracanã, a Sele-
ção brasileira jogava de camisas bran-
cas. Na iminência da Copa de 1954, sur-
ge um movimento para criar a nova ca-
misa. “Era a velha forma de mudar algu-
ma coisa para manter tudo igual”, afir-
ma Schlee. A Confederação Brasileira
e Desportos (CBD), ancestral da CBF,
associada ao jornal Diário da Manhã, do
Rio de Janeiro, lança um concurso nacio-
nal. Schlee nem acreditava quando saí-
ram rumores da escolha. Era ele o gran-
de vencedor, entre mais de 300 artis-
tas do País. Além do prêmio em dinhei-
ro, ganhou um ano de estágio como ilus-
trador no Correio da Manhã. Participa-
ria dos eventos e jogos oficiais do novo
uniforme, conheceria os ídolos que de-
senhava na adolescência.
A jornada do rapaz de Jaguarão, na
efervescência do Rio nos anos 1950, da-
ria a ele, em igual medida, o fascínio pe-
lo futebol e o olhar crítico àquele uni-
verso, aspectos que marcariam sua vi-
da e obra até o fim, inclusive na relação
com a sua maior invenção: a camisa Ca-
narinho. Expressão que, aliás, o fazia rir.
“Não sei quem inventou essa história de
camisa Canarinho, o amarelo da camisa
não tem nada a ver com canarinho, mas
o apelido pegou.”
Nos mais de 500 quilômetros de
Pampa que nos deixariam na
boca de Montevidéu, Schlee
manteve irredutível seu pal-
pite de 4 a 0 para o Uruguai.
Subimos as escadarias do
Estádio Centenário, anel superior-oes-
te, fila 5, assento 13. Em campo, as sele-
ções Celeste e Canarinho, enfileiradas,
para os ritos oficiais. “A camisa azul-ce-
leste é perfeita, mas a amarela também é
linda”, disse, antes de chorar copiosamen-
te durante o coro uníssono do hino uru-
guaio, entoado por 50 mil vozes.
Pênalti para o Uruguai: gol de Cava-
ni. Depois veio a virada, 4 a 1 para o Bra-
sil. Fim de jogo. O estádio esvaziava, em
silêncio, a massa celeste. Um torcedor
espalhava a notícia de que ali estava o
pai da camisa do Brasil. Descemos até
o gramado, segurando o corpo exausto
de Schlee. Ele caminhou até o centro do
campo, vazio. Levava nas mãos uma ca-
misa, réplica do modelo de 1962. Pedi a
ele que a assinasse. Dei-lhe os ombros,
de apoio. Senti nas minhas costas a gra-
fia trêmula daquele instante.
Dois dias depois reentramos pela fron-
teira. No portão da casa de campo, nas
cercanias de Pelotas, Schlee nos guiou
pela ampla biblioteca. Abriu pastas e cai-
xas com os álbuns e os desenhos originais
da camisa eleita, guardados por seis dé-
cadas. Algo maior nos esperava. O artis-
ta entrou a revirar as gavetas da escriva-
ninha, aflito, até encontrar um estojo me-
tálico de tinta guache, com 12 cores. “Aqui
está, essa é a tinta que usei.” Com um pin-
cel de ponta fina, verteu três gotas d’água
no amarelo mais denso da cartela, quase
todo gasto. O pigmento ganhou vida, len-
tamente. Sobre uma cópia do desenho de
1953, começou a pintar. “Bah! Que bom
que eu achei isso. De repente, a gente pin-
ta a camisa de novo, tanto tempo depois.”
Viajamos ao encontro de Schlee ain-
da uma vez. No apartamento em Pelo-
tas, o filmamos durante o jogo entre Bra-
sil e Bélgica, em julho de 2018, quando
a Seleção foi eliminada da Copa da Rús-
sia. “Nossa seleção tem um craque com
os pés de barro”, dizia, enquanto anota-
va os gols, jogadores e lances da partida.
Desenharia o último álbum das Copas.
Os tempos não eram nada bons, em ou-
tubro venceria o Messias.
O artista saiu de campo às vésperas
do amistoso internacional entre Brasil
e Uruguai, em Londres – aqui, dia da Re-
pública. A 16 de novembro de 2018, fez-
-se o minuto de silêncio no estádio do
Arsenal, com as seleções dos dois países
perfiladas, em homenagem ao homem da
fronteira, de coração híbrido, brasileiro e
uruguaio. No mesmo dia do jogo, em Pe-
lotas, cumpria-se o adeus a Schlee: o cai-
xão nu, sem bandeira ou camisa amarela.
Cena Final (A Camisa no Exílio): Ob-
servo a camisa amarela, pendurada nas
travessas do sótão da casa, assinada no
quadrante do coração por Aldyr Schlee,
naquela noite em Montevidéu. Guardo
o desejo de, um dia, poder vesti-la no-
vamente. •
CARTA CAPITAL


:extract_focal()/https%3A%2F%2Fconteudo.imguol.com.br%2Fc%2Fesporte%2F2f%2F2022%2F11%2F23%2Fjogadores-da-alemanha-protestam-antes-de-inicio-da-partida-contra-o-japao-1669209264383_v2_900x506.jpg)